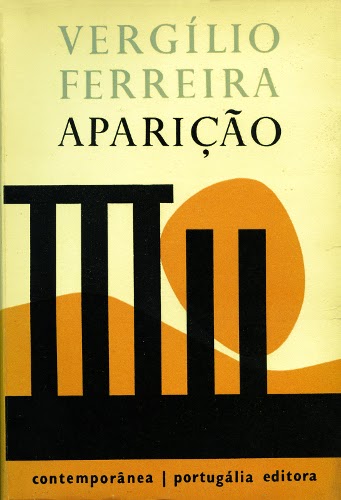Gentil Marques
Lendas de Portugal, vol. 1 (1962)
O primeiro de cinco volumes de recolha
de lendas populares portuguesas, recontadas por Gentil Marques numa
linguagem simples e acessível. O primeiro tomo é dedicado às
Lendas dos Nomes das Terras. O excerto que se segue pertence à Lenda
do Bom Jardim dos Coelhos, relativa ao solar de Sergude, em
Felgueiras.
Estremeceu. Um suspiro fundo fê-lo
voltar a cabeça. Parecia ter ouvido soluçar baixinho. Talvez fosse
o ruído das árvores, receosas da noite invernal que não tardaria.
Andou uns passos mais e entrou na clareira florida que ficava ao cimo
da álea dos lilases. E o seu coração quase parou. Uma dama envolta
num véu espesso e cinzento parecia chorar, encostada a uma frondosa
árvore. Gonçalo aproximou-se mais. Ela parecia não dar pela
presença do jovem. Ele falou-lhe num tom de delicada surpresa:
– Senhora! Em que pode servir-vos o
meu braço?
A dama levantou a cabeça. Sem pressas.
Altivamente. E logo a baixou de novo, num gesto súbito. Gonçalo não
pôde ver-lhe a expressão do rosto com nitidez. Mas a sua voz,
estranhamente em surdina, chegou aos seus ouvidos:
– Deixai-me só, jovem fidalgo!
Preciso descansar.
Ele porém insistiu, levado pela
surpresa de ver no seu solar uma dama desconhecida:
– Perdoai, mas... gostaria de saber
como chegastes até aqui.
– Andando... como vós!...
– Sois visita da nossa casa?
– Conheço-vos há muito!
– E poderei saber quem sois?
A dama do véu cinzento silenciou um
breve instante, mas respondeu por fim:
– Dir-vos-ei apenas que alguém do
vosso sangue muito mal me causou!
Gonçalo Coelho mostrou-se ainda mais
surpreendido:
– Alguém do meu sangue? E quem?
A dama não respondeu. Ao longe soou
uma gargalhada fresca. Ruído de vozes denunciavam a presença
distante de um grupo turbulento.
Como que numa desculpa, o jovem fidalgo
olhou o local donde partira a gargalhada e disse apenas:
– Brincam e riem sem preocupações...
Voltou a dama a falar,
sentenciosamente:
– A jovem que ora ri, talvez chore
dentro de pouco tempo!
Gonçalo elucidou:
– A jovem a quem vos referis,
senhora, é minha prima-irmã, D. Leonor de Alvim.
Houve um ligeiro assentimento de cabeça
da parte da dama velada:
– Eu sei. E com ela passar-se-á algo
de misterioso... depois de casar...
– Sabeis então que Leonor vai casar
com Vasco Gonçalves Barroso?
– Sim... mas enviuvará ainda
donzela.
A surpresa subiu ao auge na expressão
de Gonçalo Coelho.
– Que dizeis? Não pertence ao
passado nem ao presente tal acontecimento!
A dama pareceu sorrir.
– Mas pertence a um futuro muito
próximo.
– Como o sabeis?
– É fácil para quem vê o mundo
como eu o vejo... mesmo através deste meu véu espesso...
Então Gonçalo, num impulso
instintivo, avançou até junto da dama desconhecida. Mas não lhe
tocou. Pediu apenas:
– Senhora! Dizei-me quem sois e
porque estais aqui!
Ela não respondeu. Ergueu o busto e
pareceu absorta na contemplação da paisagem. A aragem corria
fresca, fazendo bater a ramagem das árvores. Gonçalo tentou quebrar
o mutismo em que a sua interlocutora parecia querer refugiar-se.
– Decerto não ignorais que estais no
solar da família de Pêro Coelho...
A dama fez com a cabeça um sinal
afirmativo e declarou:
– Venho aqui todos os anos neste dia.
Depois houve uma pausa. E logo uma
pergunta lenta:
– Sabeis que dia é hoje?
– Se o sei! Sete de Janeiro...
A desconhecida interrompeu com um gesto
a palavra de Gonçalo.
– Não vale a pena ficardes preso a
dolorosas recordações. Calai então o dia de hoje. Ide folgar com
vossos irmãos e primas, senhor fidalgo! Ide, Gonçalo Pires Coelho,
e deixai-me só!
Gonçalo inclinou-se com galhardia.
– Senhora! De modo algum devo
esquecer que estais no solar dos Coelhos. Melhor direi, como dizia o
senhor meu pai, no «Bom Jardim dos Coelhos»...
– Calai-vos, por favor... Hoje é um
mau jardim... Será sempre um mau jardim, no dia de hoje!
A voz dele revestiu-se de espanto
sincero.
– Não vos compreendo, senhora!
Pretendo apenas receber-vos como mandam as regras da fidalguia.
A misteriosa dama voltou a suspirar.
Pareceu de novo interessada pela paisagem. Mas, voltando-se de
repente para o jovem Gonçalo, pediu com voz ansiosa:
– Se querei, de facto, fazer-me
grande mercê, deixai-me só até ao fim deste dia. Não consenti que
mais alguém venha perturbar o meu repouso. Fazei cientes disto a
todos desta casa: uma vez em cada ano, durante as horas do sol-posto,
virei aqui. E peço-vos por tudo: que ninguém ouse perturbar esta
minha visita. Ninguém... sob pena de grandes desgraças! Sob pena
mesmo do vosso solar deixar de ser um Bom Jardim e transformar-se,
para sempre, num Mau Jardim...
Gonçalo olhou com assombro a dama
velada.
– Que estranhas as vossas palavras,
senhora! Poderei, ao menos, saber quem sois?
Numa voz repassada de sofrimento, a
dama desconhecida declarou:
– Pois já que o desejais saber,
senhor fidalgo... chamo-me Inês!
Um arrepio forte percorreu o corpo de
Gonçalo Pires Coelho. Olhou melhor a singular figura, como a querer
descobri-la através dos seus véus espessos, e pareceu-lhe encontrar
traços de um rosto que vira em alguns retratos.
Inês! – pensava ele, na turbulenta
confusão do seu espírito... – Seria possível? Estaria em
presença de uma alma penada? Para ele, seu pai nunca fora um
assassino e sim um fervoroso adorador da sua pátria, que supusera em
perigo. Seu pai era recto e bom para com os outros! Se tinha
insistido na morte de Inês de Castro, fora apenas para salvar dos
Castelhanos o seu querido Portugal, por quem tantos heróis se tinham
batido. Mas Inês, decerto, não pensaria assim. E seria mesmo Inês?
Apavorado, Gonçalo Coelho fez uma longa vénia e retrocedeu sem mais
olhar para trás, deixando a dama sozinha...