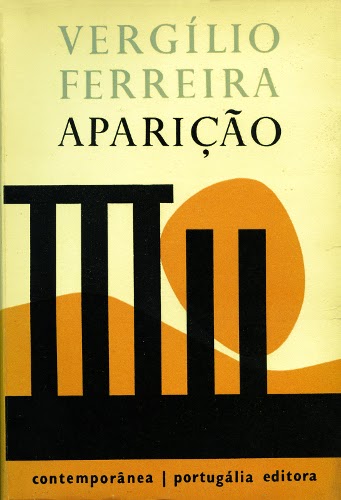Tomasi di Lampedusa
O Leopardo (1958)
O Leopardo é a única novela
entre a reduzida obra deixada por Giuseppe Tomasi di Lampedusa, e
publicada postumamente. Passada maioritariamente no período
conturbado da unificação italiana, tem como tema geral a
desagregação da aristocracia siciliana num tempo que deixou de ter
lugar para ela, em que campeiam os arrivistas burgueses. Inspirado na
vida de familiares próximos, O Leopardo tem uma força
visceral, do primeiro ao último parágrafo, sem prescindir de uma
linguagem cuidada e criteriosa. Li algures, há tempos, que a
qualidade da literatura se media pelo comprimento das frases. É uma
afirmação discutível, mas, se reflectirmos no que ali está
implícito, é impossível não deixar de concordar. Sendo, apesar de
tudo, uma obra mal vista em determinados círculos "bem-pensantes",
é-se levado a supor, tendo em conta o exemplo, que tal pode
funcionar como um cartão de recomendação.
Don Ciccio continuava a bramar:
— Para vós, senhores, há outra
coisa. Pode-se ser ingrato por causa de mais uma propriedade; mas por
causa de um bocado de pão, o reconhecimento é uma obrigação. E há
muito pano para mangas para os traficantes como Sedara, para quem o
lucro é uma lei da natureza. Para nós, a arraia-miúda, as coisas
ficam na mesma. Sabeis bem, Excelência, que aquela boa alma do meu
pai era guarda-caça do pavilhão real de S. Onófrio, já no tempo
de Fernando IV, quando aqui estavam os ingleses. É certo que se
levava uma vida dura mas o uniforme real e a placa de prata davam
autoridade. Foi a Rainha Isabel, a espanhola, que nessa altura era
Duquesa da Calábria, que me mandou estudar, que me permitiu ser
aquilo que hoje sou, organista da Igreja Matriz, honrado pela
benevolência de Vossa Excelência; e nos anos de maior necessidade,
quando minha mãe enviava uma súplica à Corte, chegavam sempre as
cinco onças de socorro, tão certas como a morte, pois lá em
Nápoles estimavam-nos, sabiam que éramos boa gente, súbditos
fiéis; quando vinha o Rei, este dava umas palmadas nas costas do meu
pai e dizia: «Don Leonardo, precisava de muita gente como você;
sustentáculos fiéis do trono e da minha pessoa.» Depois, vinha o
ajudante-de-campo e distribuía moedas de ouro. Agora dizem que eram
esmolas, essas generosidades de verdadeiros Reis; dizem-no por não
serem dadas a eles; tratava-se porém de justas recompensas da nossa
dedicação. E hoje se esses santos Reis e Rainhas nos olhassem lá
do céu, que diriam eles? «O filho de don Leonardo Tumeo
atraiçoou-nos!» Ainda bem que no Paraíso se conhece a verdade. Eu
sei, Excelência, eu sei, as pessoas como vós já me disseram que
essas coisas por parte dos Reis não significam nada, fazem parte do
ofício. Será verdade, é mesmo certamente verdade. Mas o facto é
que havia as cinco onças e com elas sempre se ajudava a passar o
Inverno. E agora que podia pagar a minha dívida, não há nada a
fazer, nada, «tu não percebes patavina», o meu não transforma-se
num sim. Era «súbdito fiel», tornei-me um bourbónico sujo. Agora
toda a gente é «saboiana»! Mas os «saboianos» mastigo-os eu ao
café! — E empunhando, entre o polegar e o indicador, um biscoito
fictício, mergulhava-o numa chávena imaginária.